Por Nelson Mello e Souza
Chanceler da Academia Brasileira de Filosofia
A proposta do texto é discorrer sobre as variáveis sócio culturais que influíram para o surgimento, na cultura do Ocidente, em fins do século XVIII, do pensamento econômico de perfil científico.
Dentro da perspectiva sociológica é pelo menos digno de atenção observar que antes da referida época, a geração da riqueza não chegou a ser objeto de cogitação sistemática por parte da inteligência social de nenhuma das grandes sociedades históricas conhecidas. Por lá tudo o que houve foram observações fragmentárias ligadas a funções do Estado. E no próprio Ocidente só vem a surgir depois de séculos na vida desta cultura. Aristóteles chegou a formular preocupações isoladas em sua obra enciclopédica. Vivia numa sociedade na qual eram poucos os estímulos para entender a lógica do mercado; cerca de mil anos mais adiante, na cultura árabe, um de seus leitores Ibn Khaldum, anotou considerações sobre o fenômeno econômico. Tampouco sem consistência cientifica. Se considerarmos Hugo de Grotius e seu protoliberalismo já num Ocidente que avançava pelo século XVII, o século em que o pensamento cientifico encontrou pontos de fixação institucional com a fundação em Londres da Sociedade Real de Ciência em 1660 e na França de Sociedade similar seis anos depois, pouco mais é possível notar.
O mercantilismo não chegou a ser uma doutrina cientifica do processo econômico e sim conjunto de observações empíricas sobre as formas de enriquecer e fortalecer o Estado pelo acumulo de metal precioso e o jogo astuto da balança comercial. Mesmo num Ocidente que já atingira um poder dominante pela força de sua tecnologia, não se propôs qualquer esforço compreensivo ordenado segundo hipóteses, a respeito do trabalho como fonte da riqueza, causas da flutuação dos preços, valor de troca, salários, formação de capital, renda, taxas de lucro, etc...
O fato estimula reflexões que podem nos levar longe na história da sociedade humana. Afinal, a economia significa o trabalho de prover os meios de subsistência. Envolve divisão do trabalho social, organização do esforço produtivo, sendo inerente à vida. Por isto surge com as proto sociedades tribais, desde milênios sem conta, em sua luta difícil superando com obstinação os desafios de uma vida rude. Nesta luta, melhorias tecnológicas são induzidas, dando forma à engrenagem social. Com seus avanços acumulados em ensaios, tentativas, erros e acertos, a humanidade chegou a um tempo de aceleração revolucionária com o advento da Era da Agrária, como o denomina Ernst Gellner.
Antes da “Agrária” o homem se organizara e pensara em função do modo nômade, caçando, pescando e coletando o necessário para a sobrevivência. Sua tecnologia surgiu embrionária, com base em artefatos de pedra ou osso. Foi o período mais extenso da vida humana organizada.
A “Agrária” encerrou, de forma gradativa este sistema de organização que havia marcado os cerca de 50.000 anos do neolítico, e de forma mais tosca os cerca de 200.000 anos anteriores. Nesta época remota trabalhos arqueológicos revelaram o desenvolvimento da linguagem simbólica e a rápida evolução da inteligência. Foi a gênese do que se pode chamar de “humanidade”. A sofisticação do espírito deste caçador nômade pode ser constatada na metafísica elementar que nos surge inteira nas escavações do vale do Neander. Foi ali, com o homem do Neandertal (como sabemos “Tal” em alemão é “vale”) que o culto dos mortos e seu enterro entre ritos, tornou-se prática social consolidada. Utensílios toscos colocados ao lado do morto asseguravam a sobrevivência no outro mundo comprovando o funcionamento de mente capaz de conceber o eterno, vencendo metafisicamente o tempo e a morte. Fenômeno inteiramente novo. O costume consolidou-se com o novo homem do neolítico, o Cro Magnon. Pesquisas realizadas desde Boucher de Pertres indicam o fato. A partir das que se seguiram, com Bachofen, Bastian, mais adiante Boas e Levy Bruhl, além da síntese recente no trabalho de Marshall Salim, denominado “Stone Age Economics” é possível constatar a relativa complexidade da organização destas sociedades arcaicas, seus mitos, sua medicina, seus shamans e os valores que consolidavam a ética coletiva. Acima de tudo fatos que nos indicavam sua economia tosca, com formas elementares de comercio, a partir do escambo primitivo entre tribos vizinhas.
Num mundo ágrafo, sem registros, tudo se perde nas brumas do tempo. É complicado reconstituir os passos dados por este caçador coletor em sua luta para garantir a sobrevivência. Mas é certo que foi melhorando seus meios de ataque e defesa, concebendo novas técnicas e artefatos, observando a influência das estações do ano na vida de animais e plantas. Num ponto tardio de sua evolução formulou o conceito de “semente” descobrindo o processo de domesticação dos vegetais. A partir daí estava garantido o provimento estável e sedentário de alimentos.
Esta impressionante transformação da estrutura econômica induziu transformações radicais na geração da riqueza e na organização da sociedade. Ao descobrir como se reproduzem as plantas o homem logrou o seu controle. O sistema produtivo ganhou em complexidade. Com o tempo as transformações em cadeia sucessiva aumentaram seu poder sobre a natureza e a produtividade do trabalho, estimulando, em cadeia dialética, a criatividade coletiva e individual. Novos usos do fogo, pela sustentação de temperatura ampliada no forno, viabilizou o grande avanço da metalurgia e da cerâmica. Os produtos se diversificam e se multiplicam. Por outro lado, com a incrível proeza da domesticação das bestas selvagens aumentou-se a oferta de proteínas e a produção coletiva pelo uso da energia animal. Pouco a pouco foram sendo alteradas as relações de produção, institucionalizando-se a propriedade privada da terra e o regime escravo de trabalho. A hierarquização tornou-se mais rígida. Novas estruturas de relacionamento foram ganhando forma decorrendo delas a fixação de um sistema complexo de status símbolo com o objetivo de legitimar a distância social que só fazia aumentar, entre o Palácio que surgia, o Templo que se organizava e os segmentos humanos que formavam a base, com seu trabalho para viver e gerar excedentes.
Para nosso tema é importante notar como a Agrária alterou a dinâmica da vida. Basta notar o tempo decorrido. Enquanto a fase coletora e caçadora durou centenas de milhares de anos a Agrária não ultrapassou cerca de 10.000, desde sua origem até os nossos dias. Com ela o tempo deixou de permanecer o mesmo na rotina dos dias. Passou a envelhecer depressa. A tecnologia da paz e da guerra avançou de modo galopante. Geraram-se as condições que exigiam a sustentação da ordem e organização coletiva induzida pelas necessidades de uma divisão do trabalho social bem mais complexa, com especialização por funções, não mais por gêneros. Tudo era feito para garantir a defesa contra a pilhagem freqüente dos grupos que ainda viviam como nômades caçadores. Daí o surgimento das instituições centrais, acima referidas, o Estado e o Templo. A resultante nos assombra, pois em menos de dez mil anos a humanidade atingiu o prefácio da industrialização no século XVIII de nossa Era.
Com o Estado surge um tosco embrião de direito público enquanto o direito costumeiro ordenava as necessidades da convivência, o trabalho coletivo e a ordem necessária. Sistemas educativos tornam-se uma necessidade social para perpetuar o conhecimento e ampliá-lo, porque os exércitos necessitam de logística para sobreviver em campanha, de treino especifico para o combate e de novas armas para as batalhas. Além de cuidados médicos para controlar os ferimentos. Obviamente a produção dos meios de subsistência tornou-se objeto da preocupação do Estado nascente e a divisão do produto do trabalho coletivo teria de ser administrada para gerar os excedentes, sem os quais seria impossível manter a estrutura da defesa e da ordem.
E assim foi feito pelas sociedades que se firmavam, gerando a grande saga da civilização humana com seus desacertos, avanços e conquistas materiais.
Com o Estado e o sedentarismo produtivo surgem as primeiras cidades. Sob o ponto de vista que nos interessa notemos que sua expansão tornou mais denso e indispensável o comércio de excedentes para complementar carências locais. Estradas, pontes, comunicações mais freqüentes, sistemas sofisticados de troca e orientação produtiva foram surgindo pouco a pouco das articulações de grupos cujo trabalho era assegurar as condições necessárias ao abastecimento destas sociedades.
A dinâmica transformadora da oferta de bens e serviços foi fator dominante na Era das grandes civilizações. Justamente por isto é pelo menos curioso que o homem só tenha começado a inquirir sobre o sentido, a origem e o fim da rede de relações econômicas tantos séculos adiante, quando a Agrária já chegava a seu fim histórico. Difícil entender como o advento da extensa rede de comercio, do artesanato urbano organizado em guildas, de um protocapitalismo que se consolidava num mundo ativo de negócios , sua respeitável classe intelectual, classe que vivia dos excedentes gerados , não fosse estimulada a meditar sobre a engrenagem do sistema que garantia sua sobrevivência.
Nas primeiras grandes civilizações, nem o gênio fenício, povo que vivia do comercio, nem o sofisticado chinês ou o egípcio lograram avançar na teorização da economia. Tampouco encontramos algo do gênero no extraordinário saber dos babilônios aos quais devemos talvez os primeiros esboços da astronomia, da medicina ordenada e dos códigos legais; nem o logramos perceber na criatividade das elites assírias, cujos engenheiros, mercadores e administradores consolidavam a melhoria das comunicações, do comercio e da arte da guerra. Sendo sociedades práticas e inventivas, nenhuma delas logrou estimular a compreensão dos processos de produção e trocas dos quais todos, afinal, dependiam.
Mais curioso ainda é o caso de grandes civilizações posteriores, todas com processos centenários de comercio intenso. Refiro-me a Grécia pos homérica, a Pérsia de Ciro e seus descendentes e principalmente a Roma desde os tempos de sua expansão como República até sua consolidação como Império. Seus movimentos expansionistas tiveram densa motivação econômica. Protegiam seus mercadores, defendiam suas redes e rotas de comercio. Não obstante, nenhuma delas estimulou qualquer tipo de pensamento sistemático sobre o funcionamento da economia, embora os gregos a tenham batizado, “oikos nomos”.
Certamente não foi por lacunas intelectuais. A medicina foi elaborada como saber específico desde os shamans neolíticos até o ponto em que se tornou uma ciência entre os gregos com base no uso das plantas a partir da botânica emergente. Entre os egípcios esta mesma medicina estimulou, além da botânica, um sério conhecimento da biologia, a ponto de avançarem em cirurgias complexas executadas com altas taxas de sucesso. A matemática e a geometria foram tratadas como ciências pelos sumérios. Foi a base da arquitetura antiga, responsável pelos projetos e construção efetiva dos templos e das pirâmides, dos palácios, termas, diques e canais. A astronomia tornou-se parte da vida intelectual de egípcios, babilônios, chineses e árabes. A ciência agronômica foi objeto de tratados romanos revelando um saber sistematizado. O direito já surgira como implícito nos costumes, mas tornou-se o centro de meditação protocientifica desde o Código de Hamurabi, há cerca de 5.000 anos atrás, tornando-se o corpo central da inteligência organizativa romana e bizantina.
Na verdade, a qualidade deste pensamento antigo é de tal ordem e nós, modernos, devemos tanto a ele, que Alfred North Whitehead este grande matemático e físico, amigo e colega de Bertrand Russel, afirmou, de forma mais ou menos irônica, que toda a filosofia atual não passa de um grande rodapé a Platão. Adicionemos: talvez nossa medicina não passe de um rodapé ao saber egípcio do qual se valeram os gregos, e nossa matemática e ciência astronômica não deva esquecer sua dívida para com os antigos babilônios.
Podemos concluir que todas as grandes civilizações nos legaram modelos de pensamento filosófico, jurídico, artístico, matemático ; todas desenvolveram a arte plástica, a musica, as danças, sistemas de educação capazes de produzir não só a elite de artistas e pensadores que influíram e seguiram influentes senão também os administradores e generais que compunham o corpo dirigente, os artesãos que modelaram as jóias, moveis e vestes , cuja estética magnífica até hoje nos deslumbra. Tudo com base num processo econômico que sustentava o poder de consumo das elites sociais, o poder fiscal do Estado além de garantir os excedentes necessários aos profissionais dos serviços técnicos e do pensamento religioso e filosófico.
Havia algo mais. A uniformidade perfeita das armas, elmos e escudos, dos belos uniformes de campanha dos exércitos da antiguidade, induz um sistema de encomendas especiais em série, com exigências padronizadas, tudo pago a centenas de artesãos descentralizados e submetido a controle de forma e qualidade.
É relativamente comum relacionar a indiferença econômica ao sistema de produção escravista. Se examinarmos bem vamos ver que tanto o segmento social dos mercadores quanto o do artesanato, base de todo um complexo sistema de trocas, tiveram relativa liberdade. Não eram escravos. A engenhosidade, o deslocamento espacial livre para viagens ao desconhecido e a audácia de empreender eram características inerentes à existência do mercador e ao exercício de sua profissão. A criatividade artística e livre negociação de seu produto a base de sustentação dos artífices. Por isto nenhum dos dois segmentos foi absorvido pelo sistema escravo funcionando na base de um mercado onde flutuavam preços e valor do trabalho. Materiais decisivos para suas sociedades , como o ouro a prata, o marfim, a seda, o lápis lazuli, o mármore, o bronze, exigiam extensa e eficiente malha comercial para seu provimento como matéria em bruto, com riscos e custos diversificados, além da arte individual do artífice em sua preparação para o consumo. A montagem do Todo implicava em divisão do trabalho com profissional especializado. Mas este trabalhador especializado não deixava de ser um consumidor eclético. A rede de dependências garantia o sustento dos envolvidos num processo montado sobre um sistema de trocas com base em preços. Mesmo com estas ações impondo intrincado sistema de relações econômicas, o fato não estimulou o pensamento organizado para entendê-lo. O proto capitalismo das grandes civilizações não o produziu nem a sociedade o estimulou. Mesmo em épocas de crise quando o Estado sentia a necessidade de defender preços contra a ameaça de abusos ou para regular a oferta. O fenômeno ocorria com certa freqüência desde a Suméria. Mesmo quando o trabalho protegeu-se com a formação das guildas, nem assim seus intelectuais indagaram “por que”. Tudo já indicava a existência objetiva de “algo” que poderia ser conceituado como “o mercado”, com seus períodos de flutuação da oferta dos “bens econômicos” e um sistema de trocas que funcionava de acordo a normas de valor diferenciado .
O fato nos induz a algumas reflexões sobre a dialética do imaginário e a base cultural que lhe serve de apoio.
É de Max Scheller a proposta de uma “sociologia do conhecimento”. Com esta área específica de estudos este grande autor colaborou para refinar a chamada “Teoria das Ideologias” que surgira desde Francis Bacon, com suas reflexões sobre o condicionamento das idéias. Alcançou certa coesão teórica com a obra de Karl Marx.
Scheller avançou em relação a Marx ao sustentar que o conhecimento e as visões de mundo não dependem de formas de pensar que surgem da defesa dos interesses de classe, e sim do modo como se estruturam os valores por um lado e do nível do conhecimento possível a cada sociedade em seu processo de desenvolvimento cultural por outro. Haveria uma espécie de fenomenologia das percepções. Os fatos seriam percebidos de acordo com as possibilidades sociais que configuram sua percepção. As idéias não operam no vazio histórico.
A proposta representa um avanço considerável em nossa forma de ver e entender como se articula na prática da vida o processo de formação, assimilação e divulgação das idéias. Elas seriam filhas de uma época, de um nível de conhecimento acumulado, de um estilo de ser e de uma forma de ver o mundo dentro da gradual evolução do espírito humano e das condicionantes culturais que possibilitam aos talentos inovar, criar e criticar.
O que se deu com o pensamento econômico tal como nos surge de forma cientificamente elaborada a partir de uma época tardia na evolução do Ocidente e apenas do Ocidente, primeiro com os mercantilistas, depois com a fisiocracia de Quesnay, Cantillon , Turgot , para chegarmos a Adam Smith, Malthus e pouco adiante a Ricardo, para seguir seu desenvolvimento até os tempos atuais é fenômeno novo. A sociologia do conhecimento propõe sua compreensão como resultante de variáveis cruzadas. Sua dinâmica influiu para o surgimento da ciência e da tecnologia responsáveis pela revolução da Era que sucedeu a da Agrária, a “Era da Industria” dentro da qual vivemos até hoje.
Com a sociologia do conhecimento, portanto, as idéias e sua gênese, tornaram-se fascinante aspecto do estudo cultural.
Para consolidar nossa tese é imperativo ir adiante e relembrar a contribuição adicional de Alfred Weber.
Este talentoso embora menos conhecido irmão de Max Weber, propôs, no seminal “Sociologia da História e da Cultura”, importante complementação à sociologia do conhecimento. E matizou o determinismo racionalista implícito na teoria do progresso.
Sabemos que o embrião desta teoria foi plantado no início da Renascença. Por lá admitiu-se que o progresso da humanidade depende da vitória da razão contra o conservadorismo religioso e as superstições obscuras. Lembremos que Petrarca cunhou a expressão “Idade das Trevas” para definir os séculos anteriores ao seu. Na seqüência foi paulatinamente aberto o caminho para um conjunto ativo de defensores da razão contra a superstição, o mito e a alquimia. O tempo de sua maturação em camadas cumulativas preparou o caminho para o movimento de idéias denominado “iluminismo” e sua crença curiosa no progresso unilinear da razão. Se a antropologia cultural já matizava e corrigia este posicionamento teórico, ainda se carecia de um trabalho que a completasse.
Alfred Weber a nós o oferece ao formular sua sociologia da história.
Distingue três processos: o “social”, ou a forma como cada sociedade se organiza e legitima seu sistema de hierarquia, divisão do trabalho e distinção de status; o “cultural” que explica a diversidade de crenças, valores, idiomas, folklore, literatura, arte, formas de sentir e pensar o mundo e, finalmente, o que denomina de “processo civilizatório”, ou a linha de inovações assimiladas a perpassar culturas diferentes pelo processo de difusão, fazendo com que se generalize, por exemplo, o uso da roda, do papel, do vidro, da metalurgia, da cerâmica, etc... Conclui afirmando que enquanto os dois primeiros processos são únicos e centrados em si mesmo, relativamente imunes a argumentos racionais, o ultimo acaba sendo cumulativo, universalizado, sendo sensível ao pragmatismo racionalmente conduzido. Por ele saímos das cavernas escuras para chegar às metrópoles iluminadas.
Não obstante, tudo se relaciona. Porque se o processo civilizatório exige um tempo necessário à maturação do conhecimento, são os outros dois processos que abrem possibilidades para a absorção de suas conquistas e inovações. As coisas se revelam interdependentes e se encadeiam numa lógica de ações e reações dialéticas. Nem tudo é possível a todo tempo e em qualquer lugar. Mas algo é possível em algum tempo e em algum lugar. Conclui-se por admitir que o bom aproveitamento do processo civilizatório é matizado pela ação dos outros dois. Desta interação depende o fato da difusão provocar assimilações criativas em certos contextos, não em outros.
O gênio de Da Vinci imaginou o helicóptero e o submarino, mas as possibilidades tanto técnicas quanto cientificas de sua época os transformaram em sonhos exóticos. A industria européia chegou ao Brasil praticamente desde os tempos da tosca siderurgia do Intendente Câmara. Atingiu alcance razoável com as ações de Mauá na construção de ferrovias e produção de navios. Não obstante não gerou dinamismo próprio, continuou dependente de “know how” importado, não produziu design, projetos e inovações suas, não foi corretamente assimilada. Isto porque tanto nosso processo social quanto nossos valores incorporados no processo cultural privilegiavam o ganho rápido e o trabalho fácil. Herança colonial da monocultura, com sua concentração do poder e suas relações sociais legitimadas pela escravidão.
Ao analisar a mudança social, portanto, devemos estar alertas para entender a forma como o “processo civilizatório”, em cada sociedade, obedece a crenças e princípios axiais que fixam limites para sua correta absorção. Alguns inventos, como a roda que surgiu na antiga Suméria, teve difusão quase imediata porque não criou dificuldades culturais em nenhum contexto. Pelo contrário, facilitou o transporte das pedras necessárias às construções.
Não foi o caso da “invenção do método de inventar” nome dado por Whitehead a institucionalização da pesquisa cientifica. Tendo surgido no contexto dos desafios provocados pela complexidade crescente da Era Industrial tornou necessária a aceleração do ensino da ciência e da pesquisa, através de suas universidades e da construção de grandes laboratórios para garantir o crescimento pelo lado da oferta.
No Brasil o processo não gerou estímulos sociais para o ensino da ciência e a correlata institucionalização da pesquisa. Ao substituir a importação montava-se uma industria cliente que funcionava para atender mercado de consumo já testado, pagando-se para se ter o direito de usar modelos e técnicas provadamente eficazes. Atender pela substituição de importações um consumo já existente, não exige muito de ninguém. Bastava o desenvolvimento de um saber de adaptação não de pesquisas orientadas para a criação.
A sociologia do conhecimento, portanto, nos ajuda a entender certas diferenças. Como nos ajuda a perceber as razões que estão na origem do pensamento econômico moderno na cultura do Ocidente , especialmente a partir do século XVIII, em sua ponta mais dinâmica, na Inglaterra e na França.
O problema está em identificar por que só no Ocidente o processo seguiu adiante até chegar à Era Industrial. Em culturas como a chinesa, por exemplo, avanços tecnológicos acumulados podiam permitir o uso de máquinas para auxiliar a produção chegando-se, por indução criativa, a novas formas de energia para movê-las. Não obstante a industrialização não chegou por lá. A própria cultura árabe, cuja base intelectual e técnica era bem mais refinada que a do Ocidente em todo o período de cerca de 600 anos que vai do século VIII ao XIV , podia ter sido a base de acelerado avanço nas técnicas produtivas. Não obstante, tampouco avançaram na direção do industrialismo de massa.
Em todos estes casos, como notamos em referência ao diferencial brasileiro, a relação dos processos sociais e culturais com o civilizatório produziu respostas inibidoras da industrialização. Havia um outro aspecto. Nenhuma destas culturas desenvolvia o caráter fáustico do homem.
Foi no Ocidente e apenas nesta cultura que prosperou, com força destacada, este aspecto da psicologia humana e de seu imaginário. Soube aproveitar o legado greco-romano e árabe, mesmo algo da cultura chinesa e da egípcia em combinações criativas. Tudo culminou com o Ocidente como cultura líder do desenvolvimento econômico social que gerou a modernidade.
Esta linha de reflexões nos leva a considerar o largo processo de desenvolvimento que veio caracterizando a dinâmica do Ocidente e a diferença formativa de sua visão de mundo para explicar o sólido desenvolvimento cientifico do qual o pensamento econômico é braço importante. Lembremos que até pelo menos o século XV, o Ocidente ainda não era ainda cultura dominante. Seu grande arranque diferenciador deu-se a partir desta época.
Deve-se a Heinrich Heine a dicotomia de tipos culturais entre o passivo e conformista religioso e o tipo enérgico, empreendedor, material e filosoficamente criativo. Chamou-os de “hebreus e helenos”. Poderia chamá-los de “asiáticos e ocidentais”.
Refletindo sobre o fato é possível entender por que, na cultura do Ocidente e apenas nela foi possível surgir a “Era da Industria”com a gênese e evolução do pensamento econômico moderno.
Relembremos um pouco sua origem, já que nossa cronologia, marcando o nosso ano I da forma como o fazemos, em plena Era de Augusto e do apogeu de Roma, é complicado. Não havia nenhum “Ocidente” no século de Augusto, Vespasiano e Tito. Mesmo nos seguintes. Dar a esta época a marca divisória que a entende como o inicio de nossa Era, como o fez Beda o Venerável que viveu ali pelo século VII, mistura as coisas da fé com realidades históricas próprias.
O inicio do Ocidente parece coetâneo com a relativa estabilização da Igreja Cristã.
Sabemos que nos três séculos seguintes ao III, imperava em toda a região da Europa a anarquia que resultava da gradual desagregação do Império Romano. Não havia nenhuma nova cultura, apenas a desordem e o medo ante o esfacelamento da ordem antiga. Tempos se passaram numa Europa em tumulto complicado, a espera da estabilização. Ela começa a ganhar forma em torno do século VIII. No curto período da nova dinastia que culmina no Império Carolíngio, criou-se finalmente uma ordem cultural relativamente bem definida. Daí para frente avançou de modo gradual em seu processo de unificação, mas com o Ocidente em permanente defensiva.
Comecemos com as implicações do novo sistema de sobrevivência ante a desordem. Foi chamado de “feudal”. Dentro dele a aristocracia, como todas as outras, detentora da propriedade dos bens de produção, teve espaço de manobra bem mais amplo que nas civilizações asiáticas. A grande sabedoria da dinâmica política da época em que a cultura do Ocidente já revela certa coesão, a de Carlos Magno, foi manter o novo Império que se criava numa relação de fidelidade, aliança e proteção com as lideranças feudais já estabelecidas desde tempos.
A religião unificada pela Igreja foi a realidade institucional de ordem e respeito que trabalhou de modo decisivo para unir a nova cultura e estimular sua defesa contra os bárbaros do norte e do leste e os herejes islâmicos do sul. A importância de sua visão integrada do mundo e da vida nos parece decisiva.
Carlos Magno a reconheceu. Em fins do século VIII este rei semi analfabeto, de origem germânica, com sua forte intuição política, convoca um sábio religioso das ilhas Britânicas, Alcuino. Transformou-o em seu mentor, organizador do saber e das artes, seu conselheiro privado e braço direito no processo de tomada de decisões. Pouco adiante fez-se coroar Imperador em Roma, pelas mãos do Papa. Com isto legitimou a função da Igreja pelo poder secular, fortaleceu a união subjetiva que unia o Ocidente como cultura, e ainda criou as bases da ressurreição ideal de uma Roma que servia como modelo de ordem e grandeza.
A idéia de Roma seguia firme na nostalgia de todos. Carlos Magno soube fundi-la com o cristianismo. O fato acabou sendo estratégico para firmar os alicerces da nova cultura ainda em processo de formação. Deu ao imaginário do Ocidente concreção objetiva e um ponto de referência fundindo os valores ainda soltos com o conceito de uma nova Roma e de um novo ideário de fé e coesão. Denominou-o, de acordo com o Papado, de “Sacro Império Romano Germânico”.
Segundo a ironia de Voltaire, tantos séculos depois, este império não era nem sacro, nem romano , nem germânico. Estava correto na superfície e na retórica astuta, mas equivocou-se no fundo. O império não representava o poder secular germânico, nem de Carlos Magno, nem dos Ottos ou dos Hohenstaufen. Seu projeto continha algo de muito maior em busca da necessária unificação espiritual. Sintetizava uma cultura emergente onde eram claramente identificáveis o legado de Roma em seu direito, seus mitos formadores e seu idioma central, de germânica em seus costumes, modelos políticos e tendências artísticas, acima de tudo de religiosa pela institucionalização universal da Igreja. Igreja que lutara para manter sua organização unificada, firmando-se pela determinação simbolizada na vontade de ferro que logrou unir comunidades isoladas entre si por vernáculos, costumes e religião pagã, numa crença sólida e comum a todas. Mais ainda, levou-a a construir através de um esforço coletivo e organizado, seus grandes monumentos unificadores, os mosteiros que serviam como lugar de retiro em meio a desordem, de culto para a nova fé, de ensino, de apoio social, de guarda do saber antigo, de hospital, sede de trabalho e pesquisa, até de estalagem para receber peregrinos. Foram erguidos, desde os extremos mais setentrionais da Escócia, como Iona, na região dos germanos como o de Ratisbona, no centro da Itália em montes de difícil acesso como o Monte Cassino, no extremo norte como o mosteiro de Bobbio e no sul como em Vivarium. Tudo bem antes do Sacro Império. A pedra, matéria prima destas sólidas construções, era levada por distâncias consideráveis, em carroças puxadas pelos braços fracos de homens e mulheres crentes. O esforço revela algo de decisivo em termos de fé, compromisso e dedicação. Foi neste espírito que surgiu a “Ecclésia” como instituição democrática no sentido de que o recrutamento das vocações não se fazia dentro da lógica estamental. O ingresso na hierarquia da Igreja era aberto a todos, incluindo-se pessoas de origem social humilde. Era também universal porque a Igreja legitimou e de certa forma impôs o uso de um único idioma, o latim, através do qual foi mantida a unidade da comunicação, do ensino e da catequese em todo o Ocidente. Superar as dificuldades de entendimento que o vernáculo diversificado poderia gerar foi um fato decisivo para a unidade cultural do Ocidente. A indicação de suas autoridades era o outro lado de seu caráter universal. O italiano Anselmo foi Bispo de Canterbury, na Inglaterra e assim centenas, milhares de autoridades, nativas de um lugar, eram designadas a servir em outro, apagando o sentimento localista e estimulando o universalista.
Carlos Magno estava portanto correto em sua intuição política porque em torno da Igreja Cristã já se havia preservado algo da ordem possível mesmo nos tempos difíceis que o antecederam como o fez nos ainda mais difíceis que se seguiram ao desaparecimento do Império Carolíngio.
O Ocidente absorveu, pela força de sua crença, os invasores de outros povos e culturas como os vikings, os magiares e os slavos ainda nômades. E a religião cristã foi o centro axiológico do Ocidente. O fato explica o paradoxo de uma economia inteiramente descentralizada, de perfil agrário e artesanal , com a geração da riqueza sendo feita dentro de formas feudais de poder fragmentado e servidão dos camponeses, não ter levado à desintegração senão a uma nova forma de integração cuja base dificilmente pode negligenciar sua força espiritual.
Há um outro lado, o político que também afasta o Ocidente do Oriente. Ao contrário dos grandes impérios centralizados asiáticos, a fragmentação feudal envolveu o mundo do Ocidente num processo competitivo intenso e diuturno, com guerras e alterações freqüentes na balança do poder. A competição estimulou adaptações e mudanças, bem como o aproveitamento econômico de inovações que surgiam no curso do processo civilizatório. Vale citar o moinho de água, divulgado desde o século VII, o sistema de tração peitoral para as bestas de carga evitando a asfixia pela antiga tração que se aplicava ao pescoço, o arado de ferro com seus sulcos mais profundos e o estribo, base de um uso mais diversificado para o cavalo. As mudanças em cadeia aceleravam o processo inovador. Entre os séculos VIII e IX, por exemplo, houve um grande aumento da produtividade agrícola com geração de excedentes comercializáveis. Para maiores detalhes basta confrontar o texto de Jean Gimpel, “ A Revolução Industrial da Idade Média”.
Foram estas transformações que favoreceram o renascimento das cidades não como centros da administração e do luxo ostensivo de um poder central, como nas sociedades asiáticas, mas como entidades autônomas, dirigidas a partir delas mesmo. Dotadas de estatuto próprio, surgiam como pequenas ilhas urbanas dentro de um oceano agrário. Era do interesse da aristocracia rural assegurar condições para a prática do comercio do qual dependiam. Ao contrário dos grandes impérios centralizados, foi garantida a independência política destes centros.
Se a cidade antiga sempre foi um centro de comercio importante, a cidade que surgia no Ocidente era um centro político próprio. Soube estimular sua classe mercantil tanto quanto sua classe artística e filosófica. Tornou -se, com o tempo, o centro nervoso e criativo da nova cultura. Suas caravanas, enviadas a regiões longínquas como a Ásia e até a África comprovavam a extensão de seu comercio. Produtos de diversos tipos como o ferro dos arados, o sal que protege e dá sabor aos alimentos, o mármore, a seda , encontravam-se em sítios específicos e remotos exigindo a ampliação das redes comerciais. Sem falar nas famosas “especiarias”. Por isto o polimata Leon Batista Alberti, um dos gênios da Renascença, justificava o valor do segmento mercantil em seus “Diálogos”. Dizia ele que o mercador vive de um trabalho indispensável para a sociedade, porque as mercadorias, sendo as mesmas na origem e no destino, é pelo trabalho e a audácia de quem a busca e a move que o processo de intercâmbio viabiliza-se, expandindo a riqueza.
Parece óbvio nesta observação o inicio de um choque de visões de mundo entre a aristocracia estamental e agrária e o caráter dinâmico dos burgos emergentes com o surgimento de uma consciência comum aos envolvidos nesta função social.
Não falemos de “classe”. Não era uma “classe” no sentido moderno do termo. A sociedade feudal era organizada em estamentos, tipo de hierarquização definida por herança, valores e legitimada por lei costumeira. A chamada “burguesia”, ou profissionais que exerciam sua profissão nos burgos livres e não nos campos onde imperava o regime de servidão, eram envolvidos na mesma categoria geral de “terceiro estamento”, ou “tiers etat” como ainda os chamavam, tantos séculos depois, os ideólogos da revolução francesa.
Não obstante, este estamento já continha, desde sua origem, todos os ingredientes psicológicos para a formação de uma consciência específica e autônoma. Já em torno do século XII é visível um embrião de sistema bancário que se consolida no século seguinte. Era um fenômeno novo, estimulado pelas necessidades da competição. E a competição entre parceiros com liberdade para atuar e agir com desenvoltura e criatividade era um elemento típico da rede social tecida pela cultura do Ocidente.
Sob este aspecto fomos todos “fenícios”, dentro de uma época mais avançada do processo civilizatório. O financiamento como profissão deu a este segmento, especialmente quando se adensaram as correntes de comercio, enorme poder. É conhecido o fenômeno que fez os mais destacados deles financiarem a nobreza e a realeza mais do que operações mercantis normais. As ações dos Fugger, dos Bardi, dos Peruzzi, financiando a aristocracia, além do contingente de mercadores que lhe ofereciam produtos e serviços, estimulavam a separação definitiva e quase conflitiva entre os dois mundos ideológicos que jamais se misturaram, o do “ócio” e da guerra e o do “negócio” e do trabalho. “Nec otium” ou negação do ócio. Com uma diferença. Na sociedade ocidental ambos detinham parte do poder o que não se logra visualizar entre os mercadores chineses, persas ou árabes. Desde logo o Ocidente foi palco de uma divisão entre as forças decisivas do controle social, a aristocracia agrária e a burguesia das cidades.
Notemos, no entanto, algo mais. As necessidades do mecanismo produtivo não isolaram uma das instituições que, ao contrário do que pensam certos segmentos intelectuais de perfil marxista, sempre se manteve na esfera do ócio, a Igreja. A nova relação de vida não a fez permanecer no Ocidente apenas na esfera do ensino, da contemplação, do apoio social e do culto. Sua necessidade como proprietária de terras, responsável pelas comunidades que nela habitavam, a fez desenvolver o mundo do trabalho. Ao contrário dos centros religiosos da China ou do mundo muçulmano, de seu esforço surgiram inovações importantes para a agricultura, a defesa, a engenharia das construções, as artes. Novas formas de alimento, de bebidas, de técnicas para diques e barragens. Foram os cistercences que drenaram e criaram as terras férteis dos chamados “paises baixos”. Muitos dos experimentos nos mosteiros permitiram novas formas de cultivo e de mistura . Nossos licores e bebidas finas são um produto deste trabalho dos mosteiros italianos e franceses como instituições agrárias e de pesquisa. Da organização e esforço de muitas ordens especiais como em Cister ou em Cluni surgiram organizações descentralizadas dedicadas a expansão do saber, ao aperfeiçoamento da escrita e ao patrocínio das artes e da musica, conservando e ampliando bibliotecas.
A Igreja cultivou também a ciência sendo alguns nomes do período, como Alberto Magno, Robert Grosseteste e pouco adiante Roger Bacon, exemplos de liderança da pesquisa e do saber cientifico. A Grosseteste devemos passos importantes para o desenvolvimento da ciência ótica que veio favorecer, séculos adiante, o trabalho de Galileu. A um religioso do século XIV, Nicolau Oresme devemos a escrituração por partida dupla o que permitiu maior controle dos negócios por parte dos mercadores. Na universidade de Paris Abelardo já sublinhava, em pleno século XII, a força da razão ao declarar que crê apenas no que pode compreender, inaugurando, contra a dogmática, a vertente do pensar dialético exemplificado em seu “Sic et Non”. Não era único. Muitos seguiam esta linha de inquirições e até de dúvidas. Para a construção dos grandes mosteiros e catedrais congregavam-se artistas, arquitetos e engenheiros na elaboração de projetos novos, reuniam-se intelectuais, patrocinavam-se artistas, estimulavam-se inovações. A Igreja inovou , primeiro com a arte romanesca, depois com a gótica para florescer na Renascença. Mesmo o financiamento de Estados foi feito através de alguns de seus braços. Uma de suas ordens mais respeitadas e famosas, a Ordem dos Cavaleiros do Templo, ou Templários, acabou como um dos grandes financiadores de reis e de príncipes em dificuldades financeiras. Foi uma das razões de sua dissolução e perseguição por um rei de França endividado.
A Igreja representou, na cultura do Ocidente, um tipo que nela emergia para ficar, o homem de experiência feito, o líder inovador que constrói a catedral gótica de Chartres, abades como Suger, que o nosso divulgador Kenneth Clark considera, em seu livro “Civilização”, como um tipo com o perfil dinâmico e inquieto de um empresário americano moderno.
O Ocidente, a partir do século XV, conflui para a fase das grandes navegações que os chineses, por exemplo, bem melhor dotados em embarcações, não tiveram motivação para realizar. Neste período da chamada Renascença, nome dado por Michelet e Jacob Burkhardt a um período fecundo de recuperação e modernização da ciência, da arte e da filosofia greco romana, as inovações se sucederam e o espírito cientifico ganhou concreção. Com a expansão geográfica do mundo conhecido e o uso generalizado da imprensa o Ocidente pode colher os resultados de seu espírito dinâmico e consolidar-se como cultura dominante. A imprensa já existia na China há séculos, bem como o papel, mas foi nas condições sócio culturais do Ocidente que ambos se transformaram em elementos estratégicos para a divulgação e ampliação do saber.
Seqüências de inovações em cadeia, inventos anônimos, melhorias de produtividade e evolução cientifica em rapidez galopante, terminam por gerar sistemas produtivos com base em nova forma de energia e novos processos de organização do trabalho.
Dá-se o nome simplificado de “revolução industrial” a esta fase de nossa cultura, cujo inicio pode ser situado em torno de fins do século XVIII. Não obstante, o nome “revolução” ajusta-se bem a esta fase do processo porque nela sem duvida, a “água se transforma em gelo”. Uma nova forma social tem sua origem ai e um novo imaginário foi induzido destas transformações, cujo dinamismo não tinha similar no passado agrário.
Notemos: a industria sempre existira mas sua base era individual e artesanal. Produzia-se trabalhando a matéria prima de modo pessoal e completo, do inicio ao fim, através das mãos, isto é, de forma “manufaturada” e não pela coordenação do esforço coletivo, a mover, em divisão intensa do trabalho, as máquinas, com seus produtos “maquinofaturados”. Foi devido ao desenvolvimento dialético do Ocidente, ligando os avanços materiais ao conhecimento e à pesquisa que a energia humana e a das bestas de tração acabou sendo substituída pela energia baseada em combustíveis fosseis, a única capaz de acionar máquinas cada vez maiores, mais densas e mais complexas.
Simplificações interpretativas costumam satisfazer-se indicando que esta grande “revolução industrial” é devida à ação da “burguesia”, dando a esta classe o papel estratégico na condução do processo. Não nos parece ter sido bem assim. A Era da “grande transformação”, para usar expressão de Karl Polanyi derivou de todo um conjunto de circunstâncias criativas e de inovadores anônimos, filhos de um novo clima de pensamento tanto político quanto social, foi o que tentamos sublinhar neste estudo. Marcou o Ocidente desde sua gênese. Vimos que sua base de arranque social já pode ser identificada desde a chamada “idade média”. Não será impreciso dizer que o dinamismo do século XVIII foi uma conquista que já era parte deste novo Ser histórico. Tornou-o apenas mais visível mas é possível recuar nesta visibilidade pelo menos até a Renascença do século XII. A partir de certo ponto logrou força revolucionária, inaugurou nova fase, revolucionou a vida, transformou valores e sistemas. Foi como um furacão que cresce devido à sua própria dinâmica de interdependências.
Ciência, técnicas novas, inventos anônimos, competição pelo poder, negócios em expansão, visões de mundo que surgiam de contestações e dúvidas, ação política e econômicas diversificadas constituem um conjunto em que a “circunferência não tem centro”, como dizem os místicos medievais a respeito do infinito. Portanto, bem mais que a ação isolada de uma classe emergente, foram as grandes forças anônimas e interdependentes as que moveram o processo na direção de uma nova perspectiva de vida , produção, consumo, organização política e dinâmica social.
Dar à classe burguesa o papel de criadora do Todo é claramente simplificador além de lacunoso quanto ao papel dos cientistas dedicados a aprender, que nada tinham de capitalistas, professores dedicados a ensinar, intelectuais que viviam para a arte e a literatura ajudando a criar o novo “espírito dos tempos”, de artesãos simples metidos em suas vidas, de técnicos comuns e até de muitos aristocratas que investiram em inovações industriais. Trocavam informações, mesclavam-se em suas ações para inovar e resolver problemas do mecanismo produtivo.
Não parece irrelevante notar alguns exemplos. Joseph Black era um físico e matemático, professor universitário, John Watt um artesão humilde que trabalhava com instrumentos de precisão. Este artesão curioso trocava com ele informações que o levaram a produzir a máquina a vapor. Richard Arkwright era um barbeiro confeccionador de perucas que avançou em seus projetos com a ajuda de um relojoeiro, John Kay. Hargreaves, o revolucionário das máquinas têxteis, inventor do torno da fiação, era um carpinteiro . Militares, estudantes de química, como James Keir e Alexander Blair inventaram os sistemas de branqueamento base de uma nova industria, a de álcalis, e um conde como Alexandre Cochrane atribui-se descobertas que levaram a um melhor aproveitamento do carvão. Grandes proprietários rurais aristocratas como Robert Peel passaram-se para atividades industriais, outros como o Duque de Bridgewater e Francis Egerton, mantiveram suas terras mas criaram empresas carboníferas e abriram canais para facilitar o transporte deste fonte de energia, recebendo os produtos de volta.
Correto, portanto, me parece perceber em toda a história social do Ocidente o gradual fortalecimento de uma rede complexa de interesses e ações, comum a segmentos aristocráticos, políticos, bem como a profissionais de mercado e do artesanato urbano, lentamente elaboradas desde um passado remoto.
Viável concluir ser produto de sociologia imperfeita atribuir a uma única classe o movimento que gerou a revolução industrial. Como é imperfeito atribuir a nomes ilustres e gênios isolados a forma de equacionar o pensamento necessário para disciplinar em novas teorias e concepções de mercado a compreensão do sistema econômico que emergia de todo este imenso processo dialético.
Realístico aceitar que uma visão de mundo diferente vinha surgindo e se modificando a partir de controvérsias e disputas freqüentes em função da nebulosidade do processo. Nem é de estranhar que com as complexidades do novo sistema industrial, do intrincado sistema de divisão do trabalho por ele criado e de um proletariado emergente a viver nas cidades de seu salário, constituindo uma nova realidade social a exigir um mínimo de compreensão para suas leis operacionais, o pensamento econômico ganhasse autonomia e respeitabilidade, nesta cultura, nesta época e não em outra qualquer.
A Igreja representou, na cultura do Ocidente, um tipo que nela emergia para ficar, o homem de experiência feito, o líder inovador que constrói a catedral gótica de Chartres, abades como Suger, que o nosso divulgador Kenneth Clark considera, em seu livro “Civilização”, como um tipo com o perfil dinâmico e inquieto de um empresário americano moderno.
O Ocidente, a partir do século XV, conflui para a fase das grandes navegações que os chineses, por exemplo, bem melhor dotados em embarcações, não tiveram motivação para realizar. Neste período da chamada Renascença, nome dado por Michelet e Jacob Burkhardt a um período fecundo de recuperação e modernização da ciência, da arte e da filosofia greco romana, as inovações se sucederam e o espírito cientifico ganhou concreção. Com a expansão geográfica do mundo conhecido e o uso generalizado da imprensa o Ocidente pode colher os resultados de seu espírito dinâmico e consolidar-se como cultura dominante. A imprensa já existia na China há séculos, bem como o papel, mas foi nas condições sócio culturais do Ocidente que ambos se transformaram em elementos estratégicos para a divulgação e ampliação do saber.
Seqüências de inovações em cadeia, inventos anônimos, melhorias de produtividade e evolução cientifica em rapidez galopante, terminam por gerar sistemas produtivos com base em nova forma de energia e novos processos de organização do trabalho.
Dá-se o nome simplificado de “revolução industrial” a esta fase de nossa cultura, cujo inicio pode ser situado em torno de fins do século XVIII. Não obstante, o nome “revolução” ajusta-se bem a esta fase do processo porque nela sem duvida, a “água se transforma em gelo”. Uma nova forma social tem sua origem ai e um novo imaginário foi induzido destas transformações, cujo dinamismo não tinha similar no passado agrário.
Notemos: a industria sempre existira mas sua base era individual e artesanal. Produzia-se trabalhando a matéria prima de modo pessoal e completo, do inicio ao fim, através das mãos, isto é, de forma “manufaturada” e não pela coordenação do esforço coletivo, a mover, em divisão intensa do trabalho, as máquinas, com seus produtos “maquinofaturados”. Foi devido ao desenvolvimento dialético do Ocidente, ligando os avanços materiais ao conhecimento e à pesquisa que a energia humana e a das bestas de tração acabou sendo substituída pela energia baseada em combustíveis fosseis, a única capaz de acionar máquinas cada vez maiores, mais densas e mais complexas.
Simplificações interpretativas costumam satisfazer-se indicando que esta grande “revolução industrial” é devida à ação da “burguesia”, dando a esta classe o papel estratégico na condução do processo. Não nos parece ter sido bem assim. A Era da “grande transformação”, para usar expressão de Karl Polanyi derivou de todo um conjunto de circunstâncias criativas e de inovadores anônimos, filhos de um novo clima de pensamento tanto político quanto social, foi o que tentamos sublinhar neste estudo. Marcou o Ocidente desde sua gênese. Vimos que sua base de arranque social já pode ser identificada desde a chamada “idade média”. Não será impreciso dizer que o dinamismo do século XVIII foi uma conquista que já era parte deste novo Ser histórico. Tornou-o apenas mais visível mas é possível recuar nesta visibilidade pelo menos até a Renascença do século XII. A partir de certo ponto logrou força revolucionária, inaugurou nova fase, revolucionou a vida, transformou valores e sistemas. Foi como um furacão que cresce devido à sua própria dinâmica de interdependências.
Ciência, técnicas novas, inventos anônimos, competição pelo poder, negócios em expansão, visões de mundo que surgiam de contestações e dúvidas, ação política e econômicas diversificadas constituem um conjunto em que a “circunferência não tem centro”, como dizem os místicos medievais a respeito do infinito. Portanto, bem mais que a ação isolada de uma classe emergente, foram as grandes forças anônimas e interdependentes as que moveram o processo na direção de uma nova perspectiva de vida , produção, consumo, organização política e dinâmica social.
Dar à classe burguesa o papel de criadora do Todo é claramente simplificador além de lacunoso quanto ao papel dos cientistas dedicados a aprender, que nada tinham de capitalistas, professores dedicados a ensinar, intelectuais que viviam para a arte e a literatura ajudando a criar o novo “espírito dos tempos”, de artesãos simples metidos em suas vidas, de técnicos comuns e até de muitos aristocratas que investiram em inovações industriais. Trocavam informações, mesclavam-se em suas ações para inovar e resolver problemas do mecanismo produtivo.
Não parece irrelevante notar alguns exemplos. Joseph Black era um físico e matemático, professor universitário, John Watt um artesão humilde que trabalhava com instrumentos de precisão. Este artesão curioso trocava com ele informações que o levaram a produzir a máquina a vapor. Richard Arkwright era um barbeiro confeccionador de perucas que avançou em seus projetos com a ajuda de um relojoeiro, John Kay. Hargreaves, o revolucionário das máquinas têxteis, inventor do torno da fiação, era um carpinteiro . Militares, estudantes de química, como James Keir e Alexander Blair inventaram os sistemas de branqueamento base de uma nova industria, a de álcalis, e um conde como Alexandre Cochrane atribui-se descobertas que levaram a um melhor aproveitamento do carvão. Grandes proprietários rurais aristocratas como Robert Peel passaram-se para atividades industriais, outros como o Duque de Bridgewater e Francis Egerton, mantiveram suas terras mas criaram empresas carboníferas e abriram canais para facilitar o transporte deste fonte de energia, recebendo os produtos de volta.
Correto, portanto, me parece perceber em toda a história social do Ocidente o gradual fortalecimento de uma rede complexa de interesses e ações, comum a segmentos aristocráticos, políticos, bem como a profissionais de mercado e do artesanato urbano, lentamente elaboradas desde um passado remoto.
Viável concluir ser produto de sociologia imperfeita atribuir a uma única classe o movimento que gerou a revolução industrial. Como é imperfeito atribuir a nomes ilustres e gênios isolados a forma de equacionar o pensamento necessário para disciplinar em novas teorias e concepções de mercado a compreensão do sistema econômico que emergia de todo este imenso processo dialético.
Realístico aceitar que uma visão de mundo diferente vinha surgindo e se modificando a partir de controvérsias e disputas freqüentes em função da nebulosidade do processo. Nem é de estranhar que com as complexidades do novo sistema industrial, do intrincado sistema de divisão do trabalho por ele criado e de um proletariado emergente a viver nas cidades de seu salário, constituindo uma nova realidade social a exigir um mínimo de compreensão para suas leis operacionais, o pensamento econômico ganhasse autonomia e respeitabilidade, nesta cultura, nesta época e não em outra qualquer.
Retornar...
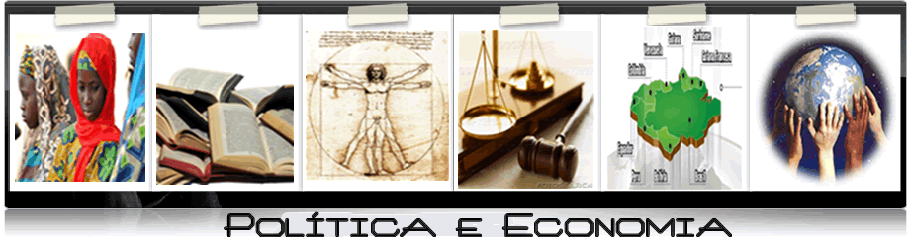




Nenhum comentário:
Postar um comentário